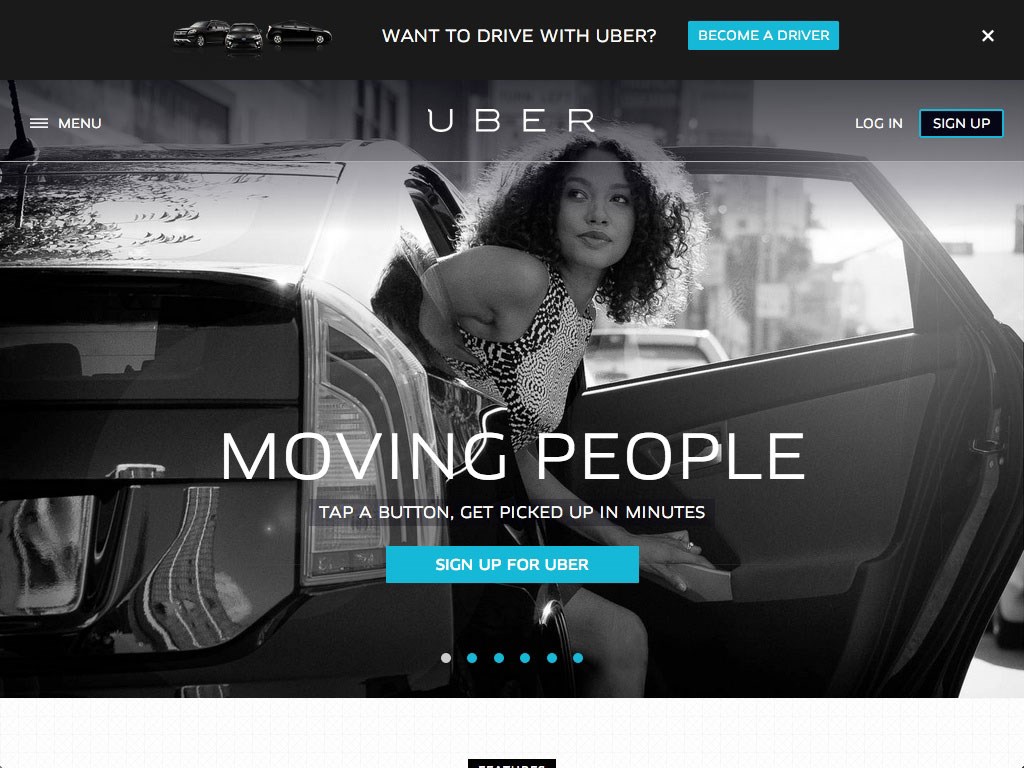CRÍTICA
Urbi et Uber
Cidade e arquitectura na era do neoliberalismo
Editor revista Punkto
1.
O recente debate promovido pelo Jornal Arquitectos com o título “Porto (que) Sentido? Transformação urbana entre identidade e artifício” (realizado a 18 de Fevereiro, no Teatro Rivoli) surge no contexto de uma intensa e ampla discussão em torno daquilo que poderíamos chamar, parafraseando Nietzsche, a utilidade e os inconvenientes do turismo para a vida das cidades. Uma discussão que tem percorrido tanto o Porto como Lisboa e que tem cruzado vários níveis, interlocutores e instâncias. Mobilizando intrépidos apologistas dos impactos positivos desta actividade na economia e na reabilitação urbana, mas também um numeroso exército de descontentes que, de forma directa ou indirecta, têm sido vítimas de processos associados ao turismo: desde o aumento das rendas fruto da especulação imobiliária (e da alteração à lei do arrendamento) à colonização intensiva dos centros históricos pelas indústrias ligadas ao sector. Contudo, a tendência geral parece estar em compreender o turismo como um fenómeno particular, isolado, fechado em si mesmo, reduzido aos seus efeitos mais imediatos e bastante marcado por oposições binárias que opõem turistas versus habitantes e que tendem para uma certa nostalgia e mitologização que opõem o novo versus o velho (sendo exemplo disso o debate em torno do património construído das cidades e, particularmente, em torno das chamadas “lojas históricas”). Neste sentido, um dos méritos deste debate foi não ter sucumbido à tentação de colocar a palavra “turismo” no seu título, situando-o num âmbito mais alargado, naquilo que foi identificado na sinopse do evento como os “processos de transformação urbana” e as “lógicas de produção de cidade”.
Em certa medida, devemos ver o turismo como um sistema organizado, integrado e transversal que tem hoje uma dimensão preponderante nas economias nacionais e locais. No caso do Porto, tudo isso é mais importante tendo em conta o processo de desindustrialização da região, o progressivo desaparecimento e a deslocalização de um sector terciário ligado à importação e à exportação (e no qual o mercado comum europeu veio pôr um ponto final) e, por fim, a crise económica de 2008-2011 que intensificou todos esses processos. E, portanto, o turismo foi uma aposta nacional clara apoiada substancialmente na rede de ligações low cost e uma “galinha de ovos de ouro” (para usar uma expressão recorrente) que permitiu, no caso do Porto, mobilizar uma retórica de orgulho local em tempos de crise e todo um conjunto de sectores económicos: do imobiliário à restauração. Mesmo tendo em conta todo um conjunto de factores externos que vão desde a instabilidade política no mediterrâneo à guerra na Síria, o turismo não foi um fenómeno inteiramente espontâneo ou surpreendente, mas foi algo que vinha a ser preparado e que se estabeleceu de forma natural no quadro global das relações estratégicas económicas entre o norte e o sul da Europa (veja-se, por exemplo, os investimentos no Aeroporto Sá Carneiro, já em 2004, ou a construção do Terminal de Passageiros do Porto de Leixões, cujo concurso foi lançado em 2009, num investimento de 49 milhões de euros com uma estimativa de 110 mil passageiros por ano).
2.
Parece-me, por isso, decisivo compreender as relações entre turismo e cidade num quadro muito mais alargado. Talvez fosse bom evitarmos falar, simplesmente, de turistificação, mas tentar perceber se o turismo (em todas as suas características, particularidades e excessos) não é, antes de mais, a expressão de uma alteração consistente no modo de entender, conceber e produzir aquilo que ainda hoje chamamos de cidade. E, portanto, ver o turismo ou a cidade turística, como expressão, manifestação, variante particular, daquilo que poderíamos chamar a cidade na era do neoliberalismo ou a cidade neoliberal. E é este contributo que eu gostaria de deixar para este debate: não há crítica do turismo, apenas crítica do neoliberalismo, ou melhor, crítica de cidade debaixo do modelo económico e político neoliberal. Isto é: compreender de que modo é que a racionalidade política neoliberal (que tem vindo a instalar-se paulatinamente nas últimas décadas) produz um certo tipo de espaço e de tempo e fomenta, articula, um certo tipo de relações que são sociais, políticas e económicas.
O outro aspecto que me parece importante assinalar é que esta cidade neoliberal se faz a partir de pressupostos muito diferentes daqueles que mobilizaram o modelo social-democrata, que fabricou a cidade europeia da segunda metade do século XX. Eu diria, ainda, que a tendência nostálgica com que se critica o turismo é fruto precisamente disso: a perda de uma certa ideia de cidade, como entidade fisicamente e politicamente delimitada e autónoma, baseada numa noção de cidadania e de esfera pública, que hoje parece estar definitivamente em desuso. E que é, afinal de contas, a crise da própria democracia: das suas instituições, dos seus espaços, das suas contradições dentro do quadro do capitalismo.
Portanto, diria que o turismo é a expressão ou a manifestação mais evidente, no quadro urbano, de um processo de neoliberalização que está em curso e que atravessa a totalidade da nossa vida. E não se está a falar em sentido figurativo ou metafórico. O neoliberalismo não é apenas uma corrente de pensamento de uma determinada escola ou, simplesmente, mais uma expressão do capitalismo, mas é uma racionalidade política, um modelo de organização social, que produz um sujeito específico, que tem as suas regras, os seus pressupostos e as suas instâncias de legitimação de verdade: desde logo os “mercados” 1. E tudo isso com tremendos impactos e óbvias consequências naquilo que têm sido as nossas formas de existência.
3.
Com o turismo estamos perante uma alteração de paradigma: tanto no entendimento daquilo que é a cidade, como na produção de um espaço, de um modo de ocupação e de uso desse espaço. E, de facto, o turismo, parece ter a vantagem de fazer aparecer de forma evidente alguns desses pressupostos, que são fundamentais e que não são de agora, mas têm constituído um movimento silencioso (apesar de tudo não-linear), desafiando toda uma noção de cidade e de estar-junto. Primeiro, a crise de uma certa noção de público, que é, por um lado, a crise de uma determinada concepção de estado (a crise do estado social e a privatização dos serviços públicos), e, por outro lado, a crise de uma noção de esfera pública entendida como espaço de mediação entre o individual e o colectivo, mas também de visibilidade e participação política 2. De certo modo, acompanha um movimento de dissolução do comum ou, talvez, a afirmação derradeira do mercado (e já não do público) como elemento mediador do colectivo. Segundo, a precarização absoluta das relações sociais, ligadas a um processo generalizado de economicização: a subordinação progressiva de todos os tempos e espaços da vida quotidiana e urbana a uma lógica de lucro e de produção de valor. É precisamente a partir daqui que me parece útil procurar detalhar de forma breve alguns desses atributos ou características que mobilizam esse entendimento e essa produção de cidade na era do neoliberalismo.

Primeiro. Cidade como marca. As cidades transformaram-se, hoje, em produtos, mercadorias prontas a serem consumidas no mercado global dos “best european destinations” (o caso do Porto é particularmente evidente com a criação da marca “Porto Ponto”). E se a cidade é uma marca isso significa duas coisas: primeiro, que a sua lógica de organização estrutural é, de facto, a empresa e, segundo, os seus habitantes são considerados como consumidores ou capital humano (mais valias) e não indivíduos que possam participar de um processo político de discussão em torno da cidade ou de um encontro/confronto agonístico entre partes ou partidos. Neste sentido, podemos dizer que o “livro de reclamações” é o sucessor de pleno direito do programa político.
Segundo. Cidade como parque temático. Porque são marcas, as cidades precisam de um role permanente de eventos capazes de mobilizar o seu espectáculo. As cidades são, sobretudo, recintos de entretenimento – das movidas aos programas de festas de iniciativa municipal. Isso significa que o espaço público está saturado pelo espectáculo. O espectáculo é o elemento de mediação absoluto do colectivo. Sem espectáculo não há ninguém na rua. Também aqui a noção de consumidor/espectador se torna dominante. Por isso, podemos dizer que a cidade neoliberal é, em certa medida, a despolitização da polis – um conjunto urbano sem uma vida politicamente qualificada. Pessoas que habitam de forma indiferenciada um território sem reivindicar qualquer afinidade e direito político. É uma cidade em que as instituições públicas estão, também elas, debilitadas, incapazes de gerir os conflitos inerentes aos processos de especulação urbana e em defender o bem comum (e o turismo tem sido a manifestação evidente disso mesmo).
Terceiro. Cidade uber. Significa duas coisas: monetização absoluta da vida quotidiana (todos os espaços e tempos da vida são transformados em possibilidades de negócio e de lucro) e a precarização de todas as relações sociais. Cidade uber ou cidade airbnb significa não apenas que a precariedade tomou conta das relações laborais, mas que as próprias relações sociais e urbanas estão subjugadas a uma lógica económica. E, sobretudo, o denominador comum dessas relações é sempre o “mercado” 3. Na cidade-uber todos são empreendedores e todos são precários: todos são emprecariadores. É afirmação de uma economia que já não produz, mas dedica-se a produzir valor. Mas também a afirmação da plena permutabilidade. Se há um sujeito e um corpo neoliberal, moldável e adaptável, multi-tasking, capaz de cumprir qualquer função ou responder a um qualquer desafio, também há um espaço neoliberal: flexível, multi-purpose, apto a cumprir uma qualquer função e a receber usos e operações diversificadas/diferenciadas que possam maximizar o seu valor. De algum modo, podemos dizer que o neoliberalismo faz estilhaçar a tradicional trilogia que serviu, durante tanto tempo, para caracterizar um certo paradigma de cidade: a polis (forma de governo e autonomia política), a civitas (grupo social e cidadania) e a urbs (a edificação e a infra-estrutura).
A urbs designava para os romanos um aglomerado genérico de habitações sem qualquer estatuto político (isto é, sem civitas) e, por isso, veio a nomear a pura organização material da cidade. É um termo afim à palavra grega oikos, que significava casa, mas também designava uma aglomeração de habitações (oikoi). Como escreve Hannah Arendt, oikos e polis opunham-se. No oikos vigoravam as relações patriarcais e despóticas (pai/família; mestre/escravo), era o espaço consagrado à produção e à reprodução da vida biológica (à oikonomia). Enquanto que a polis definia um espaço de participação livre e democrática entre iguais. Para Pier Vittorio Aureli, o projecto de Ildefons Cerdà para Barcelona (que faz aparecer o termo urbe em oposição ao termo ciudad) é já a afirmação de um novo paradigma de produção de cidade, onde a política (polis) é substituída pela economia (oikos, urbs). A urbe (e, consequentemente, a urbanização), tende a suprimir o carácter e a dimensão política da cidade e afirma um modelo de governação eminentemente biopolítico, que integra a totalidade da vida privada e colectiva num território funcional que tem como objectivo maximizar (através da circulação) as relações de produção (trabalho) e reprodução (vida biológica). É, portanto, a afirmação de um espaço e de uma forma de vida reduzidos à sua dimensão logística e biológica, onde a política deixou de ter qualquer lugar e onde a economia se assume como ferramenta apta a ultrapassar todas as contradições do capitalismo e todas as lutas de classe. Não é de estranhar que em cada “nó” da sua grelha, Cerdá tivesse previsto colocar um relógio. Eles são, de facto, os verdadeiros substitutos dos espaços de participação e representação política. A partir de agora, como já o sabia Cerdá, “time is money”.
Na metrópole neoliberal, poderíamos por isso dizer, não há nem polis nem civitas, mas apenas urbs e uber, isto é, infra-estrutura e capital humano precarizado e desqualificado politicamente. A divisa dessa metrópole neoliberal já não seria aquele ecuménico “Urbi et Orbi”, mas o “Urbi et Uber”.4

© Ibai Rigby
Quarto. Cidade monofuncional. Assinala a tendência para a especialização e a mono-tematização das cidades: o zoning já não é (apenas) uma estratégia de funcionalização de zonas dentro de um determinado aglomerado urbano, mas entre aglomerados urbanos. Um zoning a uma escala regional ou global onde as cidades tendem a especializar-se numa determinada indústria ou sector de produção (seja o turismo no Porto e em Lisboa ou a creative class de Londres e Berlim). E isso significa a perda de autonomia e de heterogeneidade do tecido social, produtivo e urbano. Significa também que as cidades ficam mais expostas e dependentes de lógicas e monopólios macroeconómicos. É uma espécie de efeito de cultura intensiva ou aquilo que se tende a identificar como um efeito-eucalipto, onde a sobreexploração leva geralmente ao esgotamento dos solos.
Quinto. Cidade campo. Não se trata aqui da clássica relação entre cidade e campo. Mas campo no sentido de recinto fechado, que tem um conjunto de regras, de regulamentos que protocolizam quem pode aceder e quem não pode, as condições e os limites dos acessos e dos usos. Por isso, a vigilância e a videovigilância são um dado fundamental desse recinto: proteger o campo do espectro da insegurança transforma-se num objectivo fundamental da gestão das chamadas “zonas históricas”. E este é o último dado da cidade neoliberal, a sua latente manifestação securitária, a aposta na vigilância e no controlo biopolítico dos corpos e dos espaços. E isso implica tanto a acentuação dos conflitos e das zonas de desigualdade como a diferença fundamental entre aqueles que permanecem excluídos e os que permanecem incluídos. Mas significa, também, que aquilo que está gravado como emblema na outra face da moeda da metrópole neoliberal cosmopolita não é outra coisa que a câmara de vigilância.
4.
Em suma. Se, por um lado, o turismo é, entre nós, o processo que torna evidente a elaboração e a produção de um novo entendimento de espaço urbano e de coexistência debaixo do neoliberalismo; por outro lado, a pergunta que o debate coloca (“Porto (que) sentido?”) tem que implicar necessariamente uma reflexão acerca de como se pode produzir, ocupar, reinventar um espaço colectivo qualificado politicamente. Isto é, que práticas, que instituições, que modos de participação e organização, estaremos aptos a criar, a mobilizar, capazes de contrariar esse movimento de desestruturação e despossessão que o neoliberalismo coloca? E, se é verdade que o neoliberalismo é, de facto, um movimento de “anulação do demos” (como sugere Wendy Brown, que recentemente traçou a história da emergência do neoliberalismo) 5, isto é, o apagamento e a dissolução dos elementos base da democracia, então percebemos que aquilo que está em causa é politicamente e socialmente decisivo.
Por outro lado, significa também, para nós que falamos de arquitectura, voltar a colocar o problema do papel do arquitecto. Porque se há algo que temos que reconhecer é que esta racionalidade política neoliberal também criou um certo sujeito-arquitecto ou uma figura-tipo daquilo que podemos identificar como o arquitecto neoliberal e, por conseguinte, uma certa definição do lugar e da função da própria arquitectura dentro desse quadro de relações políticas, económicas e sociais. E tal como a privatização do espaço público é uma condição da cidade neoliberal, também a obliteração da esfera pública da disciplina parece ser uma condição sine qua non de uma arquitectura neoliberal.
Não foi precisamente isso a que assistimos nas últimas décadas? A dissolução progressiva da dimensão pública e política da arquitectura (a privatização da arquitectura), isto é, da arquitectura enquanto exercício de reflexão sobre a cidade e sobre os seus processos urbanos, enquanto exercício de defesa da cidade que é de todos e para todos? O que não só implicou a afirmação de uma noção de arquitecto-empreendedor de si mesmo, entregue ao deleite dos seus pequenos objectos convertidos agora em pequenas promessas de felicidade para consumo privado, como fez aparecer uma nova classe de arquitectos-operários confinados à infinita divisão do trabalho, para quem a arquitectura – reduzida à sua pura nudez – não é mais que um conjunto de competências técnicas e procedimentos administrativos a seguir. Em qualquer um dos casos é a confirmação daquilo que Giancarlo de Carlo, já em 1989, chamava o especialista: aquele que sabe fazer tão bem uma coisa sem saber para que serve.
É precisamente a crítica a esse modelo político-ideológico, que em cada momento define o “que é a arquitectura” (os seus limites e práticas, o seu quadro conceptual e o seu teatro de operações), que hoje tem de ser levada a cabo. E essa é uma tarefa que não cabe nem a publicações peer review de académicos melancólicos nem a fóruns de apologetas empreendedores, mas à generalidade de uma classe (profissional), às suas instituições (novas e velhas), e às escolas de arquitectura, muito particularmente. E ao contrário de todas as evidências, de todos os aparentes consensos e contra toda a deserção intelectual dominante, também este é um debate relevante e imprescindível. Talvez, por isso, a crítica da cidade na era do neoliberalismo não seja outra coisa que a crítica da arquitectura na era do neoliberalismo. ◊